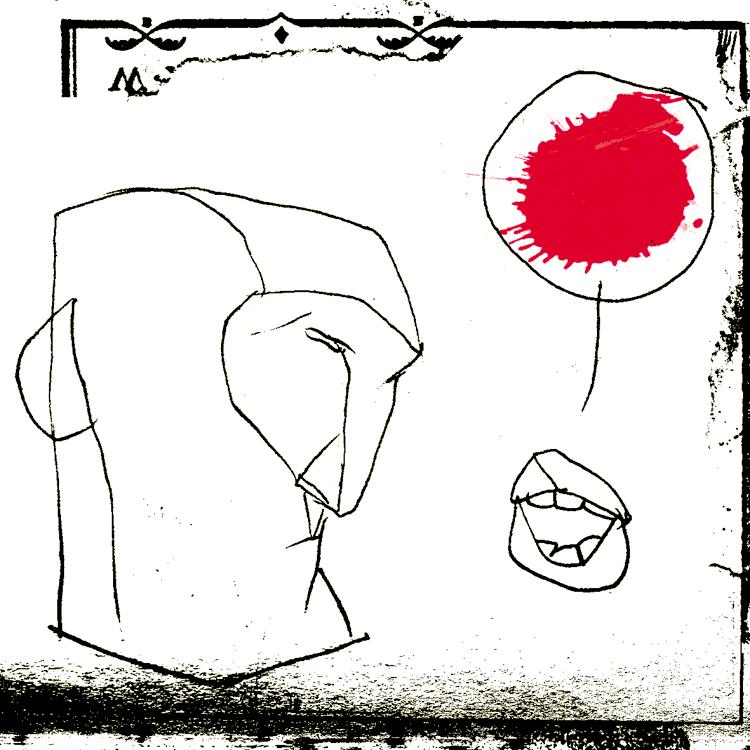
Tive contato com Alison Bechdel totalmente por acaso. Não lembro se eu estava em São Paulo e tinha acabado com meu livro de viagem (sempre tenho um livro de viagem), ou se simplesmente pedi uma indicação de livro/quadrinho ao André Conti, que foi o editor que me levou como tradutor pra Companhia das Letras.
Ele foi o tradutor, no Brasil, de “Fun Home”, primeira graphic novel da moça.
Já de cara aparecem no livrinho referências a Proust, a Joyce… curti a parte gráfica… Resumo: li meio que numa sentada (acho que estava num congresso da USP). Fiquei tão empolgado com o livro que recomendei pra meio mundo. No mesmo congresso mais umas duas pessoas leram aquele exemplar.
Hoje até a minha filha já leu.
Bechdel acabou ficando mais conhecida, como figura “pop”, por causa do dito “teste de Bechdel”, que ela mesma sempre faz questão de dizer que não inventou, mas pegou de uma amiga.
O teste, no entanto, virou diagnóstico padrão. Consiste numa heurística simplinha pra ver o grau de “sexismo” da produção de ficção.
Na sua versão mais simples ele tem três perguntas.
Há personagens femininas?
Elas aparecem em algum momento por conta própria, conversando entre si?
Essa conversa em algum momento é sobre um assunto que não seja: “homens”?
Se você nunca fez isso, tente rodar o teste em filmes, livros etc. Você corre o risco de tomar um grande susto com o grau de “acessoridade” que as mulheres de fato têm em boa parte da nossa ficção canônica, indie, alternativa, moderna, antiga…
Dia desses, um conhecido no Facebook (um conhecido de carne e osso, mas que disse isso que eu vou dizer que ele disse no Facebook, ok?) mencionou que, no que se refere à série “Jessica Jones”, cuja primeira temporada estreou agorinha na Netflix, e que é muito provavelmente uma das melhores coisas de “super-herói” que já foram produzidas (só consegui ver três episódios até agora: fim de ano corrido, etc…), dava pra aplicar um “teste de Bechdel do avesso”.
A insinuação era que, se em algum momento havia espaço pra homens na série, eles mal estavam falando de alguma coisa que não fossem mulheres. Claro.
E aí tem duas coisas.
Uma: isso meio que é verdade…?
Todas as personagens centrais e… digamos… laterais da série são mulheres. Elas conversam entre si o tempo todo. E as conversas delas nunca são sobre homens.
Mas a outra coisa é que me deixou mais contente.
Porque eu não tinha percebido isso!
Eu tinha visto três episódios, bacanas, de uma série. E exatamente como o fato de que a coisa mais próxima de um “par romântico” envolve uma branca e um negro sem que isso seja posto necessariamente como uma “questão” (o cidadão uma hora até quase brinca com isso), exatamente como uma das personagens é inglesa, sem que isso seja uma “questão”, as personagens mais importantes são mulheres.
Não é um casal inter-racial. É um casal.
Não é política internacional. É gente.
Não é manifesto feminista. São pessoas.
Posso ser eu. Mas me dá uma felicidade imensa ver que não apenas a gente hoje pode ter ficção que passe com louvor no teste de Bechdel, mas não precisa mais ver isso acontecer só entre os “ativistas”. Não precisa. Não devia precisar mesmo.
É exatamente dessa “naturalidade”, aliás, que eu acho que a gente mais precisa.
Tomara que, num país que viu uma total “lavada” feminina em praticamente todas as posições de todas as premiações literárias deste ano (por exemplo), ao menos nesse nível cultural já se possa dar por pensada essa “questão”.
Eu sou mulher.
Eu sou branquinha.
Você é homem e zulu, menina.
E somos todos cambojanos, diga-se de passagem.
Como dizia, dois mil anos atrás, o comediógrafo latino Terêncio: eu sou HUMANO, e nada do que é humano me é estranho.
Tomara.
Enfim.



