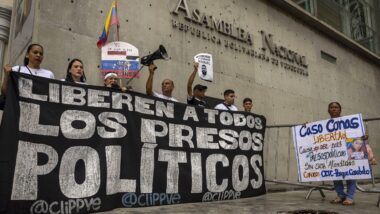Sempre que uso guarda-chuva lembro de Luís Fernando Veríssimo em Berlim, onde a gente estava em caravana de escritores. Na saída noturna do hotel, depois de um dia inteiro de chuva, vimos que a chuva tinha parado, ele explicou:
É que comprei um guarda-chuva.
No dia seguinte, na saída matinal do hotel, voltara a chover e ele explicou:
É que esqueci o guarda-chuva no quarto.
Sempre lembro do guarda-chuva, claro, quando começa a chover e esqueço do guarda-chuva assim que a chuva passa, de modo que eles ficam em restaurantes, bares, bancos, lojas. Alguns ficam lá para sempre, outros volto para buscar. Um que esqueci num bar peguei meses depois, todo estropiado, o garçom explicou:
A gente foi usando, e ele ganhou até apelido: Cantinho.
Cantinho? Por quê?
Porque ele ficava naquele cantinho ali, até que chovia.
Deixei o Cantinho lá no seu cantinho. Mas devia ter guardado o guarda-chuva com que enfrentei ladrão. É, enfrentei ladrão com guarda-chuva. Morava em São Paulo, e voltava para casa com guarda-chuva novo, comprado desses vendedores que, com chuva, surgem nas ruas como cogumelos surgem no pasto depois de chuva.
Naquela década de 80 já era mais rápido andar a pé que de táxi na chuva em São Paulo, e lá ia eu debaixo do guarda-chuva, tricotando pensamentos, quando um sujeito de jaqueta de couro puída (como os detalhes ficam!) encostou do meu lado, debaixo do guarda-chuva, e senti um cutucão na costela.
Passa o relógio e a carteira, chefe.
Pensei que fosse algum amigo brincalhão, tentei olhar seu rosto, ele recuou um passo, mas ainda debaixo do guarda-chuva, me cutucando firme nas costelas. Parei e, para tirar a carteira do bolso da jaqueta, tive de segurar o guarda-chuva no peito com o braço, o guarda-chuva acabou caindo e vi que o sujeito tinha na mão... uma caneta. Fechei o guarda-chuva, peguei pela ponta e bati com o cabo na cabeça do sujeito, uma pancada seca naquela situação molhada, e ele sumiu entre os outros guarda-chuvas passantes. Depois emprestei o guarda-chuva para uma visita que, garantiu, ia devolver sem falta... até hoje.
Outro guarda-chuva inesquecível era de meu avô João Nóbrega. Preto feito urubu embrulhado, estava sempre no braço dele. Um dia perguntei por que andava com aquilo mesmo em dias secos, esperava chover de repente?
Não, é que sem ele me sinto muito sozinho.
Quando morreu Celso Garcia Cid, seu filho Neco ficou esperando a chegada do caixão no aeroporto. Quando escrevi o livro O Tempo de Seo Celso, essa foto me tocou: o filho na pista molhada do aeroporto, cabeça baixa, debaixo do guarda-chuva, esperando o corpo do pai, sozinho. Mas, olhando melhor a foto, vejo que não estava sozinho, estava com o guarda-chuva, esse amigo silencioso, confidente de conversas, companheiro de caminhadas, na chuva dando cobertura, ao sol oferecendo sombra, tão frágil e tão protetor.
São apenas algumas varetas, um cabo, um pano, mas armados com talentosa engenharia. Tão fino e esquivo, quando desnecessário, tão amplo quando é preciso. Se houvesse premiações no reino dos objetos, o guarda-chuva certamente ganharia o título de mais prestativo ou mais humano. Mas decerto recusaria o prêmio: guarda-chuvas são humildes.