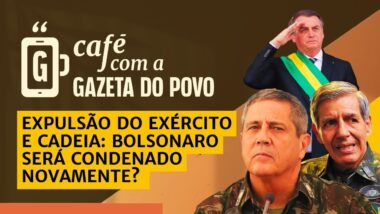Ouça este conteúdo
É preciso crer que há alguma coisa depois da porta da morte antes de tentar encontrar quem inventou as cores, descobrir o porquê da existência delas.
Quando criança, sem entender o significado de nada, foi-me dada uma caixa com lápis coloridos para pintar algumas figuras que, naquele tempo, ainda eram desconhecidas para mim. Os adultos diziam: “o elefante é cinza, a flor é rosa, o sol é amarelo e a lua, branca”. Nem tudo, porém, parecia ter sentido, já que, na minha opinião, o sol às vezes era bem vermelho, e a lua, bem, parecia ter muitas delas, um dia ela era grande, redonda e avermelhada. Noutro, aparecia um pedaço, apenas. Não estava tão interessado em suas cores como em seu formato.
O lápis preto sempre foi o mais usado, embora não fosse o preferido. Vermelho e azul é que sempre chamavam minha atenção.
Não foram os homens que inventaram as cores; eles apenas as concentraram, condimentaram. Os homens fazem isso, sempre, embora nem sempre fiquem satisfeitos com o resultado. Eles inventaram o incêndio e, depois, inventaram os bombeiros para combater o próprio incêndio. Ainda depois, proibiram o incêndio, o que pode causar a ociosidade do bombeiro. Os homens inventaram um carro que pode chegar a 280 quilômetros por hora; depois inventaram um radar para proibir e multar o carro que passe dos 120 km/h. Nunca estão satisfeitos.
O eternamente vermelho do sangue, no entanto, não tem sido percebido pelos homens – especialmente os daltônicos –, o que é preocupante, pois ser daltônico não é opcional; ao contrário, é considerado uma anomalia, uma enfermidade que, como tal, deve ser tratada. Pior ainda (e isso explicaria muita coisa) é ver uma cor apenas, o que pode ser perigoso, já que a pessoa tem apenas uma opinião.
O sangue de João Alberto, morto no Carrefour, assim como o de George Floyd, entre tantos, é vermelho, menos para o daltônico. A violência praticada contra eles, porém, seria de que cor? Uma pessoa tem ficha criminal – pode ser um deputado, vendedor ou garçonete – e, então, esquecemos os tribunais, nos tornamos juízes particulares e nossa condenação é, invariavelmente, a pena capital.
Certo dia, um amigo foi surpreendido por um jovem que chegou correndo, desesperado, em sua oficina. Apavorado, pediu para se esconder no banheiro. Imediatamente, umas 15 pessoas apareceram na porta da oficina, furiosas, pois aquele rapaz havia furtado a bolsa de uma senhora. Os gritos eram: “deixe ele sair, queremos matá-lo”, “vamos fazer justiça” e outras palavras pouco educadas. Meu amigo, com muita calma, disse que ninguém entraria ali, que o jovem ficaria preso no banheiro até a chegada da polícia – o que ocorreu (para o bem geral) em poucos minutos. Se os populares agissem como juízes, quem sabe aquilo não seria apenas um furto, poderia ser até assassinato. Ele nunca me disse a cor do assaltante.
Para os defensores do “bandido bom é bandido morto”, é necessário crer que há alguma coisa, uma outra vida depois da porta, depois da morte. Assim, após a morte, a pessoa se torna boa. Claro, é um sarcasmo; o que eles querem dizer é que a morte de um bandido é boa para nós; quando ele morre, nos sentimos melhores.
Quando há um homicídio ou um estupro, logo saem à caça aqueles que tentam descobrir se a pessoa tinha “culpa no cartório”. Assim, o crime pode ter atenuantes, justificativas que o apresentem menos feio do que realmente seja: são os acusadores.
É um paradoxo que, numa geração saturada por religiões politeístas, uma mídia que exige inclusão e tolerância, com a tecnologia impregnada na sociedade, estejamos a falar sobre as cores que habitam o planeta. Ainda uso meus lápis coloridos para pintar, desenhar, criar. Sempre fico impactado com a beleza de todas as cores.
Devíamos estar celebrando a vida e sua tonalidade, não destruindo ou desprezando; somos parte um do outro. John Donne estava certo: “se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio; a morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem os sinos dobram; eles dobram por ti”. Se não nos sentimos diminuídos com isso, somos menos que humanos.
Luiz Dias é teólogo, pastor e escritor