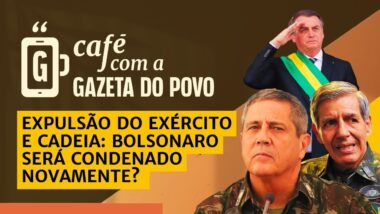Ouça este conteúdo
Dada a confluência da desorganização das cadeias de suprimento devida à Covid, as exigências ambientais da Costa Oeste americana e a guerra na Ucrânia, não é de se estranhar que se tenha agora sérios problemas de desabastecimento nos EUA. Dentre os produtos que se vêm tendo dificuldade de encontrar nas prateleiras dos mercados, no entanto, confesso que me espantei ao ver qual é o mais politizado. Eu deveria ter imaginado, claro, mas para um brasileiro é até difícil acreditar na importância que se lhe é dada: leites vitaminados em pó industrializados para bebês. Ambos os partidos gringos estão fazendo melodramas sem fim em torno de “criancinhas passando fome” por falta dos troços nos mercados, e é provável que isso venha a ter grave influência na próxima eleição. O governo americano chegou já a oferecer o sistema federal de transportes para ajudar a fazer cessar o desabastecimento, tamanha a importância dos pozinhos industriais no imaginário coletivo de nossos irmãos do Norte.
Alguns dados acessórios também causam espécie: metade dos potes dos tais pozinhos vendidos nos EUA é comprada por gente que recebe algum tipo de assistência social, ou seja, os mais pobres. Além disso, aparentemente houve uma compra grande por parte do governo para alimentar as crianças imigrantes engaioladas perto da fronteira. A direita está revoltada por ver o precioso pozinho pátrio escorrendo goelas alienígenas abaixo; a esquerda está acusando a classe média de esvaziar as prateleiras dos mercados para fazer estoque do troço (e assim, claro, fazer com que “passem fome” os bebês proletários).
Ora, bolas. Criei dois filhos, já estou a caminho do terceiro neto, e confesso que a suposta necessidade desses preparados assustadores para a perpetuação da espécie me escapa completamente à compreensão. Para ser franco, jamais tive em mãos um troço desses – a não ser, talvez, nalgum mercado onde a curiosidade mórbida me tenha levado a examinar o rótulo de algum. Nunca tive o desprazer de sentir-lhes o cheiro ou, pior ainda, ver uma criança engolindo aquilo. Já basta vê-las bebendo Coca-Cola, a “negra tinta do imperialismo” de que falava Mao Tsé-Tung (ditadores psicóticos são ótimos em frases de efeito).
O fato é que ao procurar internet afora o termo tupiniquim para essas e outras concocções eu vi, logo na primeira página brasuca que abri, letras garrafais que perfeitamente se encaixam tanto nestes quanto noutros produtos industrializados para deglutição infantil, como os tais em falta: “Por que comprar papinha de bebê?”. Realmente, por quê? E, mais ainda, para quê? A resposta dada até faz algum sentido: é prático quando se tem que andar por aí com um bebê, na medida em que aquela porcariada industrial toda faz com que não se a precise refrigerar. Já os tais pozinhos supostamente fortalecidos aqui eu só vi gente usando mais ou menos como as avós d’antanho que nos davam colheradas de óleo de fígado de bacalhau: “essa criança está muito magrinha; é preciso abrir-lhe o apetite”. Presume-se que para que coma comida de verdade.
Nos EUA eles chamam essas aberrações antigastronômicas em pó de “baby formula”, “fórmula de bebê”. Nenhum brasileiro normal acharia que “fórmula” – com suas conotações de refinaria ou fábrica de desinfetantes – e “comida” pudessem ser termos do mesmo campo semântico
Não é à toa que nos EUA eles usem um termo da química para nomear tais aberrações antigastronômicas em pó: “baby formula”, “fórmula de bebê”. Aliás, vi ontem outra prova da ausência dessas gororobas no imaginário brasileiro: uma matéria publicada em algum jornal infinitamente inferior à famosa Gazeta do Povo tratava da falta de “fórmula” nos supermercados americanos. Nenhum brasileiro normal acharia que “fórmula” – com suas conotações de refinaria ou fábrica de desinfetantes – e “comida” pudessem ser termos do mesmo campo semântico, mas os tais produtos, até por serem algo tão remoto em relação a como vemos a alimentação, devem acabar sendo nominados pelos próprios fabricantes, usuários e traficantes com o termo original, na língua de Shakespeare e das Kardashian.
Parece-me evidente que, se esses pós de pirlimpimpim industriais viessem a faltar nas prateleiras dos varejistas brasileiros, sua ausência passaria em brancas nuvens. Seria a falta de uma espécie de suplemento, semelhante àquelas cápsulas de gingko biloba que alguns engolem para aumentar-lhes o vigor, e só. Mais ainda: ninguém no Brasil consideraria que a falta de pozinhos industriais ultraprocessados levaria crianças a, de algum jeito, “passar fome”. A razão é simples: ainda sabemos comer. Sempre soubemos, e espero que sempre saibamos. Feijão, arroz, uma salada, um pouco de carne, ovo ou peixe, uma fruta, e pronto. É comida, comida que, apesar de eventuais diferenças de tempero, seria bem-vinda em qualquer sociedade mais tradicional. Já as barbaridades industrializadas com que se leva a molecadinha à obesidade mórbida decididamente não são comida. Nem parecem comida, aliás. Biscoitos isoporitos pegam fogo melhor que muita lamparina. Um hambúrguer de franquia americana, deixado numa prateleira aleatória, estará exatamente igual daqui a anos; nem o mofo nem as baratas se interessam por aquilo.
Uma amiga que adora cozinhar conta como ficavam estupefatos os amigos e vizinhos americanos quando a flagravam em ação. “Como assim, por que você não compra isso pronto, enlatado?!”, perguntavam. A resposta era simples: bastava dar-lhes de comer do que acabara de preparar. Desacostumados à boa comida, ficavam em êxtase. Aqui mesmo, em casa, pude ter o prazer e o privilégio de ensinar a meu filho o quanto vale a pena cozinhar. Depois que sua mãe se foi, passei a preparar com ele o jantar de cada dia. Na república onde havia morado na faculdade, ele comia – como sói ser em repúblicas – tremendamente mal. Em casa, contudo, fiz com ele como os mestres-cucas com seus aprendizes e passei-lhe a incumbência de cortar, picar, ferver água, essas coisas. O resultado, claro, sempre fazia valer o esforço da preparação. Coisa de dois ou três anos depois, ele me surpreendeu ao elencar “cozinhar” entre suas atividades favoritas. Foi só então que vim a saber que não apenas ele havia aprendido a lição, como cursara à distância gastronomia durante a pandemia.
Voltando ao amor dos anglos por latas e quetais, aponto que não é de hoje o problema. Quando os primeiros colonos ingleses se estabeleceram na Baía de Massachusetts – cujas lagostas são provavelmente as melhores do mundo –, eles se alimentavam basicamente de feijão em lata importado da metrópole. Diz-se hoje que a comida típica da antiga matriz é a comida indiana, tornada ubíqua pela migração de gente do subcontinente após sua independência. Bem melhor que carne cozida ou estômago de ovelha recheado, convenhamos.
Nossa feliz situação alimentar pode ser atribuída, segundo o grande Gilberto Freyre, ao fato de terem vindo portugueses aos magotes, mas raríssimas portuguesas. Casando-se os gajos com as moças da terra, criou-se uma cultura em que o doméstico – como a comida – soube aproveitar o melhor do índio, enquanto o público – como os trajes – seguiu Portugal. Houvessem vindo as portuguesas, elas com certeza quereriam o bom pão da Terrinha, tornando então indispensável a importação de trigo às toneladas. Não tendo vindo as cachopas, meu avô capixaba pôde passar a infância comendo inhame com melado ao café da manhã. E comia bastante bem, diga-se de passagem; bem melhor que quem se entope de pão industrializado com queijo prato e margarina.
A minha própria política alimentar, mesmo levando em consideração que a política é a arte do possível e que as regras são o habitat das exceções, é basicamente comer apenas o que minha saudosa bisavó reconheceria como comida. Em se tratando de uma senhorinha que fez questão de ir pessoalmente à feira até os noventa e tantos, garanto ao solitário leitor que ela entendia bem de comida. Aliás, creio que já houvesse passado dos noventa quando fomos socorrê-la após uma fieira de caranguejos que comprara vivos soltar-se e se espalhar pelo apartamentinho da pobre senhora. Ficaram deliciosos, ao fim e ao cabo. Mas divago.
Theodore Dalrymple aponta num de seus livros algo curioso que observou no seu tempo de médico do sistema carcerário inglês: a quase totalidade dos presos de ancestralidade anglo-saxã e caribenha chegava seriamente malnutrida à penitenciária. Beribéri, escorbuto e outros problemas sérios causados por desnutrição crônica eram antes a regra que a exceção. Já os nascidos em famílias do subcontinente indiano ou da África chegavam muito bem, obrigado. Em busca das origens do problema, ele pesquisou os lugares de onde vinham estes e aqueles. Aproveitando o triste fato de haver um separatismo de fato, ainda que informal, entre os diversos grupos étnico-culturais, ele pôde ver que, nos bairros habitados pelo pessoal que chegava com todos os dentes, não era difícil encontrar mercearias, quitandas e mercados com os ingredientes de comida de verdade, daquela que se prepara em casa. Já nos bairros habitados pelos malnutridos, só o que havia era o equivalente inglês de nossas lojas de conveniência de posto de gasolina, onde uma pizza congelada é o que mais perto se pode chegar de uma refeição nutritiva. Não se tratava, claro, de algum tipo de maldade perpetrada por nefastos esfomeadores racistas, mas do mercado – ou, antes, da sua famosa mão invisível – suprindo a demanda local.
No Brasil, ainda sabemos comer. Sempre soubemos, e espero que sempre saibamos. Feijão, arroz, uma salada, um pouco de carne, ovo ou peixe, uma fruta, e pronto. É comida que, apesar de eventuais diferenças de tempero, seria bem-vinda em qualquer sociedade mais tradicional
Nos lares de onde saíam em busca de confusão os bem-alimentados, comia-se à mesa em família. Já naqueles de onde vinham os desnutridos, saltava aos olhos a inexistência de mesa. Nem mesmo o móvel havia, e cada habitante da casa comia quando quisesse, geralmente plantado à frente da tevê. Via de regra, as mães “alimentavam” seus pimpolhos com sucedâneos industriais de sopa batida até que conseguissem abrir sozinhos um pacote de biscoitos; conquistada essa habilidade, o fedelho que catasse seus próprios biscoitos quando o estômago roncasse. Crescendo dessa maneira, ao chegar o momento do rito de passagem de ir em cana por falta de competência até para a vida de pequeno criminoso o comum é que o sujeito subsistisse à base de isoporitos e cerveja.
O que tal fenômeno aponta, em ambos os lados do Atlântico – pois o fato de os mais pobres serem os maiores consumidores de concocções industriais nos EUA sugere lares semelhantes aquém-mar –, não é apenas uma série de más escolhas nutricionais. O mesmo Dalrymple perguntou-se retoricamente, em artigo recente, se a obesidade mórbida seria culpa dos genes, das escolhas pessoais e culturais, da propaganda, ou de todas as opções anteriores. A esquerda, pouco dada ao reconhecimento da existência do livre arbítrio, tende a acusar apenas a indústria de deglutíveis (“alimento” é uma palavra um tanto ou quanto forte demais). A direita, por sua vez pouco dada a reconhecer a irracionalidade que permeia as escolhas humanas, tende a culpar o comedor de lixo. Os biólogos evolucionistas, por sua vez, preferem apontar a adequação desta ou daquela dieta a este ou aquele povo. Os melanésios, por exemplo, que se alimentavam basicamente de peixe e inhame, tornaram-se obesos no atacado quando passaram a comer porcarias ocidentais.
Puxando agora a brasa para a minha sardinha sociofilosofal, eu diria que é ainda outro sinal de decadência. Afinal, ainda que os primeiros angloamericanos comessem feijão em lata em vez de lagosta, pelo menos era feijão. Os perus eram tão facilmente caçados que “tiro em peru” é uma expressão americana de sentido semelhante ao de nossa “catar o que está dando sopa”. Já seus descendentes, bem como seus familiares da antiga metrópole e os descendentes das pessoas escravizadas no Caribe e na América do Norte, foram infinitamente além – ao menos em termos de comer mal. Obesos malnutridos, essa aparente contradição em termos, são hoje antes a regra que a exceção. Mesmo aqui as malignas multinacionais da mastigação, aproveitando o embalo da demanda gringa, vêm envenenar nossas crianças. Há um documentário assustador sobre a obesidade no Brasil, em que vim chocado a saber que há até mesmo um barco-loja que vaga pelo Amazonas vendendo deglutíveis em que o açúcar e o sal são inversamente proporcionais aos nutrientes. Mesmo aqui já temos crianças pequenas obesas mórbidas, viciadas a tal ponto que não conseguem comer menos que um pacote inteiro de biscoitos de uma vez. E o fazem mais de uma vez ao dia.
Estamos, afinal, na periferia do mundo moderno, e o lixo de lá cai em nossas cabeças. Ao contrário de uma criança ugandense, por exemplo, mais remotamente conectada à sociedade que ora se esboroa, cheguei a ouvir muito quando pequeno que “no ano 2000 vamos todos nos alimentar de pílulas”. Ah, sim: e os carros voariam. Pois mais de duas décadas se passaram desde o ano 2000, e nem os carros voam – a não ser em raros acidentes de trânsito – nem nos alimentamos de pílulas. Ao contrário, até: cada vez mais nos alimentamos menos. O que mais se vê é gente sem dinheiro nem para o essencial, mas com barrigas de dar inveja a hipopótamo. Afinal, é mais barato se entupir de porcarias que comer direito; quando a boa comida deixa de ser prioridade gasta-se em besteira (celulares, tênis, roupas de marca, sei lá) o que se deveria gastar em ingredientes. Uma vez fui a um parque aquático tão barato quanto ruim, e me espantei ao ver que todas as mulheres eram obesas e todos os homens, esqueléticos – quiçá gastem os carboidratos pegando no pesado (taí uma boa tese de mestrado em Nutrição, aliás). Conheço dois ou três mendigos obesos mórbidos.
Faltassem pozinhos químicos de engordar criança no Brasil, repito, ninguém ficaria correndo em círculos como uma galinha decapitada. Porém, se sumissem os refrigerantes, os isoporitos e outras porcarias semelhantes, os resmungos seriam garantidos. Trata-se apenas, na cronologia malnutricional de Dalrymple, da próxima etapa. As mães brasileiras ainda dão a seus filhos o bom e velho feijão-com-arroz, mas entre uma refeição e outra entram os isoporitos e biscoitos recheados. E para descer o almoço, por saudável que seja, bebem-se refrigerantes em escala industrial (minha sábia bisavó não proibia refrigerantes; aos domingos havia um litro de guaraná para dividir por todos, coisa de meio copo para cada um. Herdei dela, e tenho até hoje, a cafonérrima jarra em forma de gato onde o guaraná era servido).
Comer em família, por menos que os Titãs aprovassem, não é “essa mania”, sim um momento de (re)constituição real da família. Nutrir é uma forma de amar, e é para amar que estamos todos aqui
Cada vez mais é comum que as pessoas comam na frente da tevê ou, pior ainda, separadamente com uma tevê (ou outra tela qualquer) para cada um. Vez ou outra já se vê pelas ruas gente comendo e andando ao mesmo tempo, como um selvagem. Ao mesmo tempo, temos razões para alguma esperança aqui em Pindorama: quem tem de comer na rua geralmente o faz num restaurante de comida a quilo, onde, por mais que seja a quilo, ainda é comida que se come. Nossas padarias servem a multidões cafés com leite e pães fresquinhos com manteiga, queijo e presunto. Coisas, em suma, que minha bisavó aprovaria.
Comer, afinal, não é como abastecer um automóvel. A comida até tem, também, o papel de “combustível” para manter o corpo andando. Seu papel principal para o conjunto da humanidade, todavia, não é esse. Comer é um ato de civilização. Comer em família, por menos que os Titãs aprovassem, não é “essa mania”, sim um momento de (re)constituição real da família. Chama-se, com razão, o ato conjugal de “fazer amor”; a refeição familiar é também uma forma de “fazer amor”, de “fazer família”. É o lugar do diálogo, do aprendizado mútuo, da alegria de estar juntos.
A boa comida, a comida que deu trabalho, mas cujo sabor o justifica, é o “combustível” dessa sociedade primeira que é a família. Nutrir é uma forma de amar, e é para amar que estamos todos aqui. Bom apetite!
Conteúdo editado por: Marcio Antonio Campos